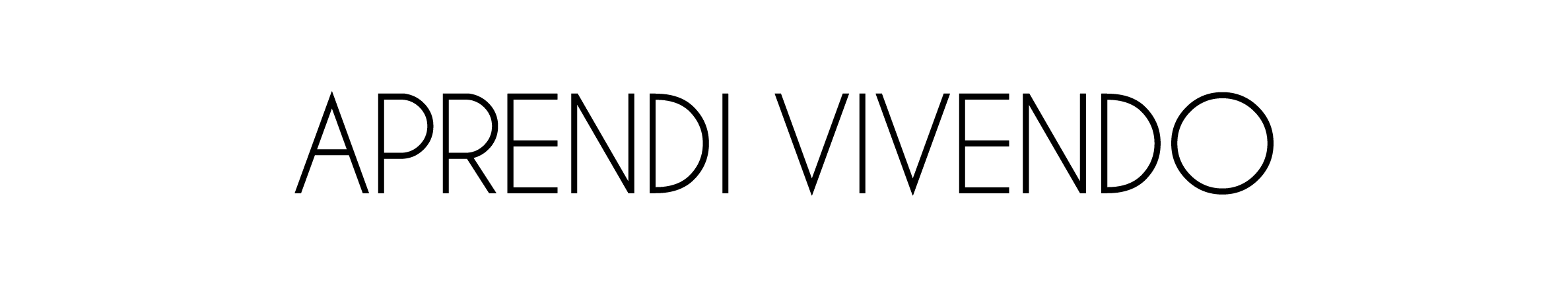Neste espaço, conto o que aprendi vivendo. Trazendo para o presente as histórias passadas, resgato minhas memórias e as lições que a vida me presenteou e presenteia, diariamente. Espero que elas sejam úteis, inspiradoras e levem conforto e alegria. Mais que isso, te inspirem a viver corajosamente.
Nada é mais valioso que viver e reconhecer nossos aprendizados – quaisquer que sejam – como fontes de crescimento e maturidade.
Lola e Lucília têm muitas coisas em comum.
A paciência é uma delas. Lucília, nem tanto. Lola, muita!
Quando se trata de paciência e amor aos maridos, ah elas são primorosas, resignadas, apaixonadas. Submissas, igualmente.
Lucília, minha mãe e esposa de José Gomes – meu pai. Não era atriz, mas seus atos dramáticos certamente cairiam como uma luva nas produções mexicanas.
Lola, esposa de Júlio na novela Éramos Seis, interpretada por Glória Pires. Um espetáculo de atuação que acompanhei durante os primeiros meses de Pandemia, enquanto trabalhava de casa.
Acompanhei ouvindo, bem no estilo anos 20 quando ainda não havia televisão e época abordada para a narrativa da novela.
Duas mãos no teclado, olhos na tela do computador e ouvidos no áudio do aplicativo GloboPlay. Seria um merchandising? Não, pois não recebi nenhum conto de réis pra isso.
E funciona, viu! Mesmo perdendo algumas cenas marcantes; daquelas interrompidas pelo intervalo: momento em que eu “voltava” o vídeo pra ver o que só foi escutado.
Durante o jantar, Lola recebe um envelope de Soraia, sua nora, esposa de Julinho – o penúltimo de seus quatro filhos que assim como o pai, trabalhava na loja de tecidos do Sr. Assad.
Surpresa, Lola abre o envelope com sutileza, sem pressa, e vê uma passagem de trem para São Paulo: um bota fora, um convite a pegar seu banquinho e ir saindo de fininho – como diria o Raul Gil.
Paciência estampada em um agradecimento paciente, desconcertado, tímido; de quem sabe que o tempero da presença estragou o prato, azedou o paladar. Daquelas situações que nos engasgam, dão nó na boca do estômago, pedem bicabornato ou chá de boldo.
Paciência, do Latim patientĭa, capacidade de resistir, suportar. Acredito que deveria compor o currículo escolar, porque os dias têm nos exigido tantas Lola e Lucília, comportamento que as empresas – até mesmo as brasileiras – chamam de soft skills. De soft, penso, não têm nada! São hard mesmo!
Acredito ser mais fácil aprender programação, uma hard skill, do que paciência. Porque paciência requer ser, desprogramar a submissão que engasga e nos impede de engolir até sopa. Imagina os sapos que nos são servidos diariamente, do café da manhã até o jantar.
Paciência a gente aprende abrindo um envelopinho aqui, outro ali. O primor está em não abrir todos de uma só vez, apaixonar-se com o que temos pra hoje e por hoje. É saber que a gente pode colocar intervalos, interromper o fluxo quando desejarmos voltar pra escutarmos de novo, vermos de novo, vermos e escutarmos – pacientemente – como se fosse a primeira vez.
Devemos ter um banquinho. Não para pegá-lo e sair de fininho, mas pra gente assentar e suportar, resistir, esperar com resignação o dia da partida do trem. Afinal, “o tempo não para”, cantou Cazuza; e “o trem que chega é o mesmo trem da partida” – poetizou Maria Rita, filha de Elis Regina.
Vai cair como uma luva se tivermos uma sutileza de companhia durante a viagem; e sermos também. Senão a gente acaba sendo o excesso de tempo na vida do outro. A sabedoria nos mostra que é melhor sermos bicabornato e chá de boldo, Lola, Lucília… quando os dramas da viagem embrulham o estômago.
CRÉDITO DA IMAGEM
Imagem de Freepik: Flor foto criado por jcomp – br.freepik.com